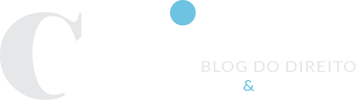Este ensaio, de forma muito simples e objetiva, pretende demonstrar algumas razões dogmáticas que sustentarão a conclusão de que um lojista de shopping center não deve ser compelido a pagar aluguel e demais despesas necessárias ao desenvolvimento da operação, especificamente quando o empreendimento fechou suas portas e suspendeu temporariamente suas atividades por determinação do poder público.
Tal reflexão tem por objeto a repreensível conduta, verificada por alguns shoppings centers após a pandemia do covid-19, que a despeito do empreendimento estar transitoriamente fechado, posicionam-se de forma inconcebível para exigir do locatário o pagamento integral dos alugueres e despesas, no máximo concedendo um termo para diluir parte do pagamento.
Isso reflete uma unilateral e ilegal alocação de risco, realizada a posteriori, sem que os negócios jurídicos tenham mapeado tal possibilidade e disciplinado seus efeitos, como até autoriza o art. 421-A, inciso II, do CC1, a partir da lei de liberdade econômica. Dessa forma, em decorrência dos reflexos da pandemia do covid-19, o lojista vê seu faturamento zerar resignadamente. Por outro lado, o shopping decide unilateralmente que irá continuar a faturar alugueres e outras receitas, mesmo sem entregar a contrapartida que justificou a contratação, arbitrariamente elegendo quem deve suportar os riscos desse inesperado acontecimento. Como se dissesse aos lojistas: “se o poder público fechou o shopping e te prejudicou, o problema é seu e não meu, e vou continuar a faturar aluguel e encargos”.
Se a covid-19 não é atribuível ao lojista ou ao empreendedor, por que cada qual não arca com os próprios riscos e prejuízos nessa travessia transitória? O lojista fica sem receita de vendas (sem shopping). O shopping ficasem alugueres e encargos (sem aluguel). Daí o título atribuído para estas reflexões. E cada qual buscará recursos para sobreviver nesse período transitório. Se assim não for, açoita-se, a um só tempo, o sinalagma contratual, a interpretação do negócio jurídico em conformidade com a boa-fé objetiva (art. 113, § 1º, III, CC2) e a mais racional alocação de riscos. E se impõe ao lojista injustamente arcar com dois riscos de uma só vez: os próprios de seu negócio, que não são poucos; e os riscos do empreendedor, transferidos sem razão palatável para o lojista, como se uma tragédia mundial concedesse ao locador imunidade em relação aos efeitos da pandemia.
Com as portas fechadas, o shopping center descumpre o dever que lhe impõe o art. 22, II, da lei 8.245/91, de acordo com a qual o locador é obrigado a “II – garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado”. Não há dúvida de que o inadimplemento do empreendedor de shopping nesse caso é fortuito e não culposo. O reconhecimento da calamidade pública somada a decretos estaduais que impedem o desenvolvimento da atividade são acontecimentos tão imprevisíveis (caso fortuito) quanto inevitáveis (força maior), que não decorrem de qualquer comportamento reprovável e inculpável ao shopping center. Mas culposo ou não, o shopping não está adimplindo a prestação para a qual deve ser remunerado. E esse fechamento é o risco imprevisto que deve ser examinado e distribuído entre as partes com base na boa-fé objetiva (art. 113, § 1º, III, CC).
Note-se que o longevo debate sobre a natureza locatícia, ou não, do vínculo existente entre empreendedor e lojista está solidamente superada já há algumas décadas, pois o art. 543 da lei 8.245/91 expressamente qualifica tal relação como locatícia, atraindo a incidência do referido art. 22, II, da lei 8.245/91. Ainda que se adote a sensata, embora minoritária qualificação de coligação contratual, a aplicação desse art. 22, II, não deve ser afastada como disciplina jurídica adequada para a fração locatícia desse arranjo contratual, que reúne uma gama de negócios jurídicos funcional, necessária e voluntariamente reunidos para viabilizar a operação econômica do shopping center .
Se não há culpa do empreendedor pelo fechamento, por outro lado é preciso reconhecer não haver igualmente culpa do lojista pelo trágico episódio. Esse raciocínio impede que o locatário, por exemplo, deva ser indenizado por lucros cessantes, alegando que deixou razoavelmente de obter lucros em razão do encerramento da atividade. E isso porque o art. 393 do Código Civil estabelece que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se não houver se responsabilizado por eles expressamente”.
Ocorre que o debate aqui é outro, recaindo sobre o dever de pagar aluguel e acessórios. O aluguel representa a contrapartida do contrato de locação, um contrato sinalagmático (com prestação e contraprestação que devem ser equivalentes). Se o locador não cumpre o dever que lhe impõe o art. 22, II, da lei 8.245/91 e o locatário não pode explorar econômica e plenamente a posse e o funcionamento do empreendimento, suprime-se a própria causa para o recebimento do aluguel.
Como bem observa Darcy Bessone4, “de um modo geral, ensinam os doutrinadores que, no contrato bilateral, as obrigações devem ser principais e correlativas, apresentando-se uma como causa das outras, ou, no dizer dos franceses, donnant donnant“.
Some-se ao cenário descrito a necessidade de a execução do contrato ser pautada e conduzida pela boa-fé objetiva no desenvolvimento do processo contratual (art. 422 do CC5). Para além das prestações de locatário (pagar aluguel e despesas) e locador (assegurar o uso do espaço, ceder e gerenciar o seu fundo empresarial), é preciso que ambos se comportem da mesma forma que uma pessoa proba atuaria em seus lugares (o chamado arquétipo ou standard de conduta), notadamente em relação aos deveres fiduciários ou anexos de proteção, informação e lealdade, cooperando reciprocamente para o êxito de obrigação. Assim, não poderia uma parte continuar a pagar e a outra nada entregar. Faça-se o exercício de colocar homens probos e leais no lugar das partes, e a conclusão será a de que cada qual arcará com seu prejuízo, suspendendo-se temporariamente as prestações até a reabertura do shopping.
É preciso compreender ligeiramente o substrato que se examina para identificar corretamente sua disciplina, examinando a operação econômica do shopping center e seus irremediáveis reflexos no direito contratual. Concebido pelos americanos na década de 60, o shopping center reúne em mesmo espaço uma multiplicidade de atividades, de modo que esse mix torne o empreendimento um centro de atração irresistível de público que será potencial cliente de cada um dos lojistas.
Os shoppings têm sua própria clientela, freguesia, aviamento, marca, insígnia, estrutura física, de conforto e diversos outros elementos corpóreos e incorpóreos que formam um autônomo e próprio fundo empresarial (art. 1142 do CC). Essa azienda é absolutamente autônoma em relação a de cada lojista, daí porque se cogita a existência de um sobrefundo ou duplicidade de fundo empresarial. Por isso o empreendimento é construído, planejado e administrado de forma centralizada (isso o distingue dos condomínios comerciais ou shoppings vendidos). Em última análise, essa capacidade de atração de frequentadores torna o empreendimento atraente para os lojistas interessados nesse público, sendo essa a ratio social e econômica que leva à contratação da locação.
Dessa forma, o lojista não paga apenas o aluguel, fixo ou percentual, aí se incluindo o 13º aluguel, pois se dirigem à remuneração do ponto. Ocorre o pagamento inicial de uma res sperata, pela cessão do uso do fundo empresarial (distingue-se das luvas, pois esta é mais circunscrita e remunera somente o ponto), assim como despesas diversas (encargos, fundo de promoção e outros) para a manutenção mensal e desenvolvimento desse fundo empresarial, respeitadas as limitações e vedações de cobrança estabelecidas pelo art. 54, § 1º, da lei 8.245/91.
Sendo esse cenário contextualizado pela boa-fé objetiva (art. 422 e art. 113, § 1º, II, CC), revela-se que a cobrança de alugueres durante a suspensão das atividades assinala a já mencionada transferência desleal de riscos. É certo que cada parte aloca riscos na operação de shopping center. Por exemplo, se o público frequentador do shopping for inferior ao esperado, o lojista não deve ser indenizado por lucros cessantes, já que esse fluxo estimado por estudos de viabilidade representa mera perspectiva de riscos para ele e o empreendedor.
Vê-se que a epidemia da covid-19, uma triste calamidade pública, parece assinalar que o risco de fechamento transitório do shopping pelas autoridades públicas é alocado para o empreendedor, responsável pelo projeto e criação desse templo de atração de frequentadores e consumo. São esses investidores imobiliários que usufruem as locações de espaços localizados nesse ambiente propício ao consumo de produtos e serviços.
Basta pensar que o lojista paga um aluguel mínimo ou fixo, ainda que não venda um único centavo com as portas abertas. É um risco dele, o alto – percentualmente – risco de malogro empresarial. Se o faturamento é abissal, o empreendedor deixa de cobrar o aluguel fixo e passa a cobrar um percentual incidente sobre o faturamento bruto do locatário, arrecadação que é objeto de rigorosa fiscalização. Esse modelo, no passado, levou equivocadamente parte da doutrina a enxergar a existência de uma sociedade entre lojista e empreendedor. Uma sociedade que só se verificaria no lucro do lojista, nunca no seu prejuízo. O debate, incandescente na década de 80, está sepultado pelo art. 54 da lei 8.245/01.
Nada há de ilegal nisso. São cláusulas que refletem as particularidades desse arranjo contratual. Porém, fica muito claro, pela estrutura do negócio jurídico, quais são os riscos de cada lado. O empreendedor promete se empenhar para atrair fluxo significativo de pessoas, criando uma obrigação de meio e não de resultado, com a segurança, para o lojista, de que ele é interessado no incremento das vendas, já que é remunerado percentualmente.
O lojista, por sua vez, aloca para si riscos extraordinários. Não sabe se o público do shopping vai quantitativamente corresponder aos números projetados. Não sabe se qualitativamente, pela renda média da região, e conforme apontaram os estudos de viabilidade, se os frequentadores corresponderão às expectativas de capacidade financeira criadas. E isso sem falar no custo operacional e nas despesas correntes de cada loja, com folha de pagamento, tributos, fornecedores e com o próprio shopping.
Dessa forma, compreendido o cenário em sua totalidade, considerando o dever legal e contratual do shopping não apenas de assegurar o uso da loja (art. 22, II, da lei 8.245/91), mas especialmente de criar a estrutura de prospecção de público que é a contrapartida para o lojista alcançar a capacidade de fazer frente às altas – e lícitas – despesas cobradas pelo shopping center, o risco do fechamento deve ser alocado exclusivamente pelo locador e não pelo locatário.
E o que poderia fazer o locatário, diante da opressão da alocação unilateral de risco e a inquietude causada pela possibilidade de despejo e cobrança? Abrem-se alguns caminhos possíveis.
Em primeiro lugar, valer-se de uma defesa substancial em ação que venha a ser ajuizada, consistente na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), com o ônus de demonstrar que o empreendedor não cumpriu sua parte na obrigação e que tal risco, com relação ao aluguel, recaia sobre o shopping center (art. 113, § 1º, II, CC).
Em segundo lugar, buscar a resilição do contrato, com base na faculdade que lhe confere o art. 4º6, da lei 8.245/91, sem pagamento de cláusula penal, por não haver “fato ou omissão imputável ao devedor” (art. 396 do CC), inclusive podendo o locatário valer-se da consignação em pagamento se houver recusa pelo locador no recebimento das chaves. Todavia, com o ônus de o locatário demonstrar o nexo entre a resilição e o episódio covid-19.
Em terceiro lugar, buscar a revisão judicial do contrato, sobretudo com base no art. 317 do CC7 e sua interpretação ampliativa8. O negócio seria revisto para suspender a exigibilidade de qualquer pagamento pelo locatário durante o período de fechamento9. Para isso, terá o lojista o ônus de demonstrar a ausência da correlata prestação que justifica o pagamento do aluguel durante o fechamento, ou seja, o encerramento temporário e total da atividade. Para a revisão, em razão da lacuna contratual, o contrato deverá ser interpretado (art. 113, § 1º, II, CC), sobretudo pelo parâmetro da boa-fé objetiva e da racionalidade econômica, esta última para extrair o comportamento que as partes adotariam se pudessem prever a pandemia por ocasião da contratação. Não se trata, portanto, de um debate exclusivo e delimitado pelo desequilíbrio econômico-financeiro, mas da ausência de sinalagma contratual e identificação do responsável pelo específico risco de não ocorrer a correlata prestação como efeito da pandemia. Dito de modo diverso, identificar se o locatário assumiu o risco de pagar alugueres e encargos ainda que o shopping fosse fechado por uma imprevisível pandemia de dimensão mundial.
Em quarto lugar, para a eventualidade de se entender inaplicável o art. 317 do CC, buscar a revisão judicial, com base no art. 422 do CC, de modo a afastar a exigibilidade de qualquer pagamento pelo locatário durante o período de fechamento do shopping center. O art. 422 deve ser interpretado de modo a alcançar a revisão judicial (Enunciado 176 do CJF10) e afastar a exigência da “extrema vantagem para a outra” como elemento essencial para a qualificação da categoria jurídica (Enunciado 365 do CJF11). Convém que a técnica da tutela provisória antecipada (art. 300 e seguintes do CPC) seja utilizada para que os efeitos de uma decisão futura de revisão sejam imediatamente produzidos, sendo esta ação conexa com eventual ação de despejo que venha a ser ajuizada (art. 55, § 3º, CPC). .
Por fim, duas observações finais parecem ser importantes. Primeiro, cientificamente não existe análise de desequilíbrio econômico-financeiro ou ausência de correlação sinalgmática em abstrato12, pois tais categorias precisam ser sempre particularizadas de forma minuciosa (ex. eventual loja que esteja em atividade e faturando escapa do raciocínio da suspensão total de pagamento aqui desenvolvido). Caso fortuito, força maior, imprevisibilidade e extraordinariedade são expressões às vezes invocadas de forma pouco científica e muitas vezes divorciadas de suas funções categoriais, além de não significarem nada fora de um contexto específico e de seu significado correto, muitas vezes ocultando da memória um tema complexo e desafiador que não tem merecido a centralidade que merece: a alocação de riscos. Segundo, e lamentavelmente, a covid-19 criou um ambiente favorável para os astuciosos e vigaristas de plantão, que buscarão “surfar essa onda” e debitar na calamidade pública um inadimplemento sem nexo de causalidade com a pandemia, a recomendar cautela redobrada pelos operadores, e, especialmente, dos competentes magistrados brasileiros na verificação desse relação causal (Enunciado 443 do CJF13).
Feita a admoestação quanto à cautela em tempos de incerteza sobre o futuro, e saudando a velha boa-fé subjetiva e tanta falta que ela faz para a sociedade, sonha-se que possamos continuar esperançosos por dias melhores e solidários, desejando que tome forma a crença do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare: “enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. E enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança”.
__________
1 Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: …
II – a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
2 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
- 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
…
III – corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
3 “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.
4 Do contrato, Ed. Forense, 1960, pag. 98.
5 “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
6 “Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”.
7 Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
8 Nesse sentido, leia-se o artigo publicado no Migalhas pelo qualificado José Fernando Simão, denominado “o contrato nos tempos da covid-19”. “Esqueçam a força maior e pensem na base do negócio”.
9 Em sentido diverso, defendendo a revisão parcial pela integração com o art. 567 do Código Civil, confira-se o bem escrito artigo “Covid-19 e os contratos de locação em shopping center”, de autoria da competente e admirada Aline de Miranda Valverde Terra Aline e publicado no Migalhas.
10 “Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”.
11 A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena.
12 Anderson Schreiber, em artigo publicado no Migalhas e denominado “Devagar com o andor: coronavírus e contratos – Importância da boa-fé e do dever de renegociar antes de cogitar de qualquer medida terminativa ou revisional”, afirma acertadamente que “Há, nos dois casos, um erro metodológico grave, que se tornou comum no meio jurídico brasileiro: classificar os acontecimentos em abstrato como “inevitáveis”, “imprevisíveis”, “extraordinários” para, a partir daí, extrair seus efeitos para os contratos em geral. Nosso sistema jurídico não admite esse tipo de abstração. O ponto de partida deve ser sempre cada relação contratual em sua individualidade. É a mesma posição de Flavio Tartuce, em artigo (Migalhas) denominado O coronavírus e os contratos – Extinção, revisão e conservação – Boa-fé, bom senso e solidariedade
13 “O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida”.