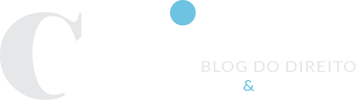Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a cidade menos populosa do Brasil. Pouco mais de 850 habitantes. Lá, como em outros pequenos municípios, um único cartório centraliza todas as funções: registro civil, notas, registro de imóveis, protesto de títulos, registro de títulos e documentos, registro de pessoas jurídicas. Um cartório para todas as atividades.
Enquanto isso, na capital de São Paulo, há trinta serventias que prestam, exclusivamente, o serviço de notas. Se você precisa de outra função, o leque também é grande: há 125 cartórios na cidade. Entre os dois extremos, a tendência é sempre a mesma: a quantidade de serventias extrajudiciais, e o nível de sua especialização, acompanha a complexidade da comarca.
No Brasil, no mundo inteiro, e para o Direito em geral, funciona mais ou menos assim. O Direito nasceu com a nossa civilização, e se desenvolve junto com ela. No mesmo ritmo, inseparavelmente.
E no início tudo era unicamente uma coisa, um ramo apenas. O Código de Hamurabi, com seus quase 3.800 anos e previsão de pena de morte para o construtor cuja obra viciada causasse o falecimento alheio, é uma boa demonstração disso. Hoje temos um cardápio extenso: Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Processual, Administrativo, Penal, Militar, Eleitoral, Internacional Público e Privado, Civil, Previdenciário, Trabalho, Consumidor, Ambiental, Direito Comercial ou Empresarial. Atualmente pouca gente discordaria que esses são verdadeiros ramos do Direito, com normas próprias.
E muitos já defendem a autonomia do Direito Urbanístico, Direito Notarial e Registral, Desportivo, Financeiro, Criança e Adolescente, Aeronáutico, Propriedade Intelectual, e assim por diante. E antes que me acusem de esquecimento: essa lista está bem longe de ser exaustiva. O importante é ter em mente que o quadro é dinâmico, e, como o Universo, está em permanente expansão.
E o Direito Imobiliário? Onde ele se encaixa? Será ele, tão somente, um “ramo do Direito Privado que trata e regulamenta vários aspectos da vida privada”? Na maioria das faculdades, os alunos aprendem, tácita e nebulosamente, que o Direito Imobiliário se confunde com o Direito das Coisas; um livro, enfadonho para vários, do Direito Civil.
Alice, que deixou Serra da Saudade para estudar em Vitória, aprendeu assim. E quando começou a advogar, teve logo um desafio: ajudar sua cliente, Sofia, a vender uma área sobre a qual haveria um empreendimento com prédios e casas.
Seria fácil. Bastaria relembrar as aulas de posse e propriedade, e adicionar uma pitada de técnica contratual. Havia, é verdade, uma certa dose inconfessada de insegurança a respeito de uma Lei recente que, segundo Alice ouvira, regulava um monte de coisas embaralhadas: a usucapião extrajudicial, a alienação fiduciária, a estranha figura do condomínio de lotes, um tal de direito real de laje, o condomínio urbano simples, algo sobre loteamento e regularização fundiária (seria uma espécie de reforma agrária?), e um resto difícil de recordar. Se bem que não faria sentido aplicar nada disso a seu assunto, pelo menos em curto prazo.
No dia seguinte, porém, veio a revelação: Sofia tinha uma mera fração do imóvel, que pertencia a várias pessoas, algumas delas familiares, todas em condomínio voluntário. Nesse grupo, uma tia havia falecido; o tio Carlos Roberto, perdulário, tinha dívidas cíveis, trabalhistas e fiscais. Um terceiro condômino era uma pessoa jurídica falida. O quarto e o quinto eram primos menores. O sexto, uma avó interditada. O sétimo, uma entidade subordinada à Igreja Católica que recebera sua fração por legado do bisavô. E o oitavo, que era maior, vivo, saudável, sem dívidas e ateu, tinha sua fração gravada com uma cláusula de inalienabilidade vitalícia.
Como se não bastasse, o grande terreno, com cerca de 200 hectares, situado no litoral, era foreiro em parte à União Federal, atravessado por um rio, com um trecho coberto por vegetação da mata atlântica. Nele havia uma pequena comunidade ribeirinha e uma antiga igreja de arquitetura colonial portuguesa.
Logo na primeira reunião com os advogados da compradora e dos demais condôminos, Alice esforçou-se em vão para mostrar alguma familiaridade com os termos ali empregados enquanto se discutia a estrutura jurídica por meio da qual a alienação do imóvel e o futuro pagamento do preço se consumariam: sociedade de propósito específico, acordo de acionistas, consórcio, permuta imobiliária, permuta financeira, permuta mista, nota promissória em caráter pro soluto, sociedade em conta de participação, fundo de fundos imobiliários. Saiu da sala para recuperar o ar, e ao regressar, o assunto já havia encaminhado para ganho de capital na permuta e na alienação de cotas ou ações; regime especial de tributação e patrimônio de afetação, alienação fiduciária e securitização de recebíveis.
Tudo isso, naturalmente, ocorreria em uma fase posterior. Pois antes seria necessário percorrer um longo caminho, e ultrapassar, com sucesso, alguns obstáculos. Era preciso implementar, nas sofisticadas palavras dos advogados, as “condições suspensivas” do negócio.
Certas condições referiam-se à liberação do imóvel, e consistiam na sub-rogação do gravame de inalienabilidade; na autorização dos juízos falimentar, da interdição e dos primos menores; na bênção do Vaticano e na garantia dos credores do tio Carlos Roberto (ou solução equivalente para eliminar o risco de fraude à execução). Talvez por lapso, acabou ficando de fora do contrato a eventual (e indevida?) exigência de averbação de reserva legal como condição para a aprovação ambiental ou para o registro de loteamento (a área seria dividida, e nos lotes resultantes seriam desenvolvidos os empreendimentos que compunham o masterplan).
Outras premissas tratavam do licenciamento do empreendimento, em que surgia diante de Alice um mundo novo de assuntos ambientais (mata atlântica, faixa não edificável, EIA/RIMA, audiência pública, LP ambiental, condicionantes, recuperação, mitigação e compensação), fundiários e sociais (a comunidade ribeirinha) e urbanísticos, tais como: tombamento, zoneamento, contrapartida, gabarito, afastamento, parcelamento, coeficiente ou índice de aproveitamento do terreno, e aprovação do projeto com emissão da licença de obras, para citar alguns.
Nossa recém-formada ainda pôde ouvir os advogados conversando entre si sobre a (des)necessidade de requerer dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários para a oferta pública de propriedade compartilhada na incorporação imobiliária a ser executada em um dos lotes. Os causídicos também discutiam – e discordavam – sobre os efeitos do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor sobre as promessas de compra e venda a serem celebradas com os adquirentes, e também sobre as alienações fiduciárias. Será que isso poderia afetar o pagamento da permuta? Será que Sofia e os demais condôminos, poderiam vir a ser considerados responsáveis em caso de inexecução do empreendimento? E se o empreendedor não cumprisse o acordado com sua cliente, seria melhor uma arbitragem? Em que câmara, com quantos árbitros, com que regras e a que custo?
Por sorte ou por azar de Alice – cada um que interprete a seu modo –, as tratativas se interromperam porque tio Carlos Roberto desistiu do negócio, e não houve argumento financeiro ou familiar que o fizesse arredar pé da sua fração.
Talvez a missão de Alice ou de outro advogado imobiliário fosse mais simples no passado. Desde a descoberta do Brasil até o início do século XX, não foram muitas as normas aplicáveis aos bens imóveis: Ordenações Manuelinas e Filipinas; Lei Orçamentária 317 de 1843 e seu correspondente decreto 482 de 1846 (registro geral das hipotecas); lei 601 de 1850 (terras devolutas do Império); decreto 1.318 de 1854 (Registro do Vigário); lei 1.237 de 1854 (reformou a legislação hipotecária) e respectivo decreto 3.453 de 1.865; decreto 451-B de 1890 (sistema Torrens). E finalmente o Código Civil de 1916.
Até então, e nos anos seguintes, o mundo jurídico que cercava os imóveis, embora já com suas complicações, não ia muito além das questões contratuais, possessórias e registrais.
Com a urbanização brasileira, a sociedade foi se tornando mais complexa, e em igual medida os negócios imobiliários ficaram paulatinamente mais intrincados, ensejando uma regulamentação à altura:
(i) Na seara das locações, sucederam-se o decreto 24.150/34 (Lei de Luvas e ação renovatória); e as leis 1.300/50 (primeira Lei de Locações), 4.494/64 (segunda Lei de Locações), 5.334/67 (limitações ao reajustamento dos aluguéis), 6.239/75 (locação para hospitais, unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de ensino e saúde) e a lei 6.649/79 (terceira Lei de Locações); até que em 1991 promulgou-se a quarta e atual Lei de Locações, 8.245/91;
(ii) Quanto ao condomínio edilício e sua irmã siamesa, a incorporação imobiliária, a sequência normativa deu-se, principalmente, com o decreto 5.481/28, o decreto 5.234/43, e as leis 285/48, 4.591/64 e 4.864/65, até chegarmos ao atual Código Civil (arts. 1.331 a 1.358-A);
(iii) Em relação ao parcelamento do solo, primeiro surgiu o decreto-lei 3.549/31, depois o decreto-lei 58/37 e seu correspondente decreto 3.079/38; o decreto-lei 271/69, a lei 6.766/79, a Constituição Federal de 1988, que deslocou o eixo da política urbana para os municípios, e a lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade);
(iv) No que toca à atividade notarial e registral no período do Código Civil de 1916, sucederam-se o decreto 12.343/17 (instruções para a execução dos atos de registros); lei 4.827/24; decreto 18.527/28; decreto 4.857/39, decreto 5.718/40; decreto-lei 1.000/69; a paradigmática lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a lei 8.935/94, que, em observância ao art. 236 da Constituição de 1988, regulamentou a atividade dos notários e registradores, e a lei 11.977/2009 (registro eletrônico); e
(v) Embora já estivesse previsto em todas as Constituições Federais desde 1824, foi somente com o decreto-lei 3.365/41 que o instituto da desapropriação veio a ser regrado em nível ordinário, o qual foi seguido da lei 4.132/62 (desapropriações por interesse social), do decreto-lei 1.075/70 (imissão provisória na posse de imóveis urbanos), lei complementar 76/93 e lei 8.629/93 (desapropriações de imóveis rurais para fins de reforma agrária); lei complementar 101/00; lei 8.257/91 (expropriação de terras usadas para cultivos ilegais, sem indenização); lei 3.833/60 (desapropriação por utilidade pública para execução de obras no Polígono da Seca); lei 10.257/01 (desapropriação urbanística como instrumento de política urbana); e lei 13.465/17 (desapropriação no âmbito da Reurb).
A lista é imensa e crescente, e se aqui é preciso, em nome da coesão, dar um basta unilateral e autoritário, que seja:
(i) com a lei 8.668/93, que dispôs sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII);
(ii) com a lei 9.514/97, que trouxe para o nosso sistema jurídico a alienação fiduciária sobre bens imóveis, uma garantia notadamente mais eficaz se comparada à anacrônica e agonizante hipoteca, e regulou o sistema financeiro imobiliário (SFI), o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), e o regime fiduciário sobre créditos imobiliários; e
(ii) com a lei 10.931/04, que instituiu o patrimônio de afetação, a letra de crédito imobiliário, a cédula de crédito imobiliário, a cédula de crédito bancário, e regulou a alienação fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Isso para não falar da LIG, a Letra Imobiliária Garantida (surgida com a MPV 656/14 e a lei 13.097/15 dela decorrente), que foi recentemente regulamentada pelo Banco Central do Brasil.
Esses novos e modernos institutos, impulsionados pela estabilidade monetária trazida pelo Plano Real, e pelo movimento de abertura do mercado, fez com que os setores imobiliário e financeiro apertassem definitivamente as mãos, gerando uma fartura e facilidade de acesso ao crédito que foram simplesmente fundamentais para o boom imobiliário observado nos anos subsequentes. Graças a isso, não duvidem, o Direito Imobiliário viveu um dos períodos mais férteis de sua história, um verdadeiro salto evolutivo.
Daí que hoje não parece correto reduzir o Direito Imobiliário a uma parte do Direito Civil, nem soa convincente limitá-lo a “aspectos da vida privada“. Ele está esparramado por todo o sistema. O imóvel – e os princípios e regras a ele aplicáveis –, permeia o privado e o público, e estão aí, para prová-lo, a desapropriação; a concorrência pública; o tombamento; a requisição; as unidades de conservação; a regularização fundiária; o mercado de capitais; os tributos e os crimes imobiliários; as operações urbanas consorciadas, as parcerias público-privadas e a concessão urbanística; as servidões e limitações administrativas; o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; o plano diretor; o foro especial da União Federal; e tantos outros institutos e instrumentos que bem poderiam ser aqui nomeados.
Convenhamos: mesmo na vida privada, o Direito Imobiliário é grande demais para caber somente no Direito das Coisas, ou até no Direito Civil em geral. Basta pensar no contencioso imobiliário (incluindo-se a arbitragem), nas relações de consumo, nos negócios imobiliários complexos, típicos ou atípicos, como o shopping center, o contrato built to suit e o compartilhamento de espaços.
Se você, direta ou indiretamente, atua com imóveis, advogando, vendendo, comprando, alugando, administrando, construindo, intermediando, investindo; licenciando, fiscalizando, julgando ou regulando; lavrando, registrando ou averbando; concedendo ou adquirindo créditos imobiliários; posso garantir que já viu, ou ainda se deparará, com muitos dos negócios, institutos e problemas narrados acima.
Talvez essa seja a instigante beleza do Direito Imobiliário: quem o respira, vive como um clínico geral, exortado pelo desafio permanente de conseguir – ou pelo menos tentar – navegar bem pela maioria dos ramos jurídicos, públicos e privados, internos e internacionais. Com a recompensa de constatar, dia após dia, a lição de gênios do quilate de Claus-Wilhelm Canaris e Michele Giorgiani: que o sistema jurídico é, efetivamente, unitário, móvel, aberto, poroso, sem comportas, dicotomias ou fragmentação. E nele os princípios e regras se misturam e se entrelaçam, em um concerto harmonioso regido pela Constituição Federal.
Se a doutrina será capaz de extrair um teoria geral, com uma sistematização de princípios, regras e institutos, suficiente para conferir ao Direito Imobiliário um contorno de ramo jurídico próprio, isso somente o tempo dirá. Mas até lá, sem hesitar, seguiremos admirando sua vasta e envolvente abrangência.
Fonte: Migalhas Edilícias